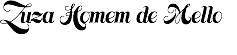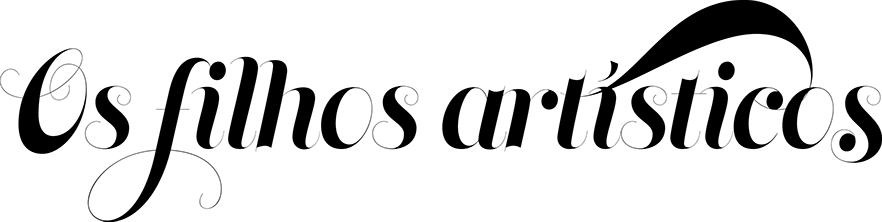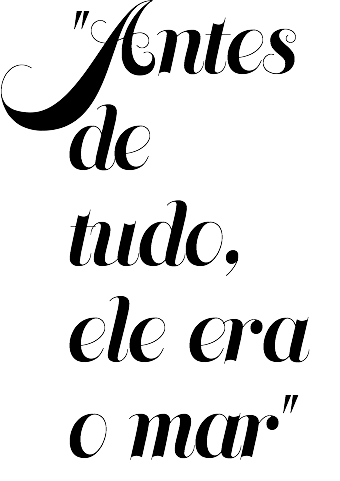Dorival Caymmi é, antes de tudo, mar. Sua absoluta originalidade se compara à de outros grandes autores que, de tão locais, acabam se tornando universais – como o venezuelano Simón Díaz ou o cubano Ernesto Lecuona, para ficarmos somente na área musical latino-americana. Com a diferença de que as marinhas de Caymmi são peças únicas na música brasileira: não vêm de nenhuma outra obra, nem deixam seguidores. Tão original quanto ele foi Luiz Gonzaga, que, no entanto, deixou sementes espalhadas por todo o Nordeste. Caymmi, não: é absolutamente único, e mesmo seus brilhantes filhos seguiram por caminhos diferentes do seu.
Se ele tivesse composto apenas suas marinhas, isso já seria mais do que suficiente para entronizá-lo no panteão dos gênios da música mundial. Mas Dorival Caymmi foi o homem que, ao lado do irmão de alma Jorge Amado – um pela música popular, outro pela literatura –, “inventou” a Bahia como a conhecemos. A Bahia real e a Bahia dos sonhos, do candomblé, dos pescadores, das festas de rua, do dia Dois de Fevereiro, das pretas do acarajé, da receita de vatapá, do acaçá de milho bem feito. Uma Bahia que, hoje em dia, talvez seja apenas uma fotografia na parede, assim como acontece com o Rio de Janeiro imortalizado pela bossa nova. Mas que permanece eternamente no imaginário coletivo mundial. Pois, como um dia disse (não com estas comedidas palavras, é certo) a primogênita de Dorival, Nana: cada vez que alguma pessoa do outro lado do mundo vestir aquele traje de baiana Carmen Miranda-style, estará, sem saber, homenageando o homem que, além de tudo, criou aquele figurino e ensinou seus requebros e trejeitos à Pequena Notável.
Os sambas “buliçosos” de Caymmi são um capítulo à parte: A Vizinha do Lado, Requebre Que Eu Dou Um Doce, Vestido de Bolero, Lá Vem a Baiana, são momentos deliciosos onde Caymmi, com malícia e graça, celebra a graça e a malícia das moças em redor. Sem falar na autobiográfica Acontece Que Eu Sou Baiano (“acontece que ela não é/ mas ela tem um requebrado pro lado/ minha Nossa Senhora, meu Senhor São José...”), composto especialmente para a mineira Stella Maris, cantora de rádio que se tornaria sua companheira de toda a vida, mãe de seus três filhos e conhecida no meio dos músicos como figura muito, muito... como direi? Especial.
E há também a deslumbrante safra dos sambas-canção como Nem Eu, Só Louco, Sábado em Copacabana e outras mais, onde Caymmi pratica o gênero que traduziu a noite carioca dos anos 1950, que ele intensamente viveu e que, de certa forma, inaugura, ou prevê, a futura bossa nova. Pois Dorival foi também um carioca, embora a Bahia jamais tivesse saído de dentro dele. Pudera: chegou ao Rio com 23 anos, e no Rio viveu até os 95, tempo mais que suficiente para merecer aquela estátua na colônia de pescadores do Posto Seis, em Copacabana, onde por muito tempo morou.
Lembro ainda sua original experiência com a valsa Das Rosas, de inspiração quase jazzística, e que ele abre com uma introdução em samba, meio que se explicando: “e eu, que tenho rosas como tema/ canto no compasso que quiser” – pois era grande o patrulhamento cultural naqueles tempos. Influência dos clássicos também – ele que contava que seu primeiro alumbramento musical se deu aos quatro anos, ao ouvir na vitrola do vizinho a Élegie, do francês Jules Massenet. Essa influência clássica está em obras suas como Sargaço Mar, que pode ser imaginada quase sinfônica. Depois viria o rádio, do qual ele faria parte a partir do final dos anos 1930, quando pegou um ita no Norte e foi pro Rio morar.
Ele era meu vizinho no bairro classe média do Posto Seis, e pai dos meus amigos Dori, Danilo e Nana. Era também um ícone da música brasileira e um ídolo musical de toda a minha família. Por isso, diferentemente do que acontecia com Tom Jobim e Vinicius de Moraes, a quem tratávamos com a maior intimidade, nunca consegui deixar de ter cerimônia com ele e chamá-lo de “seu” Dorival. Eu e a maior parte do pessoal da nossa turma de jovens músicos. Não sei se ele sabia o quanto nos impunha desse tipo de respeito. Mas era assim.
Porque ele era um gênio, e sim, Tom e Vinicius também eram geniais, mas ele era diferente. Ele era o Brasil profundo. Havia alguma coisa de imponente naquela figura, que Gil tentou traduzir como um Buda Nagô, mas era mais que isso. Era aquela obra perfeita, irretocável, a música de todas as nossas infâncias, aquela que a qualquer momento iria mesmo virar folclore, exatamente como ele queria: “que minhas músicas sejam como ‘ciranda, cirandinha’, aquelas que, depois de um tempo, todo o mundo conhece e sabe cantar, mas ninguém sabe quem fez” – era mais ou menos o que ele dizia. E por isso mesmo Vinicius o chamava de sábio, e Tom o amava como a um parente.
Impossível esquecer a semana que passei em Vrå, na Dinamarca, em 2008, ministrando workshops para uma turma de músicos profissionais do país. Depois de passar longo tempo “explicando” Caymmi aos meus alunos escandinavos, fazendo analogias entre a introdução do violão dele para O Mar e a música de Debussy, e demonstrando que sem Dorival não haveria João (Gilberto), eis que nos chega a notícia do seu falecimento, justamente no dia em que haveria a apresentação final do curso. A comoção foi enorme, e muita gente que recém tinha aprendido a entendê-lo e amá-lo chorou comigo. A música brasileira perdera mais um pai.