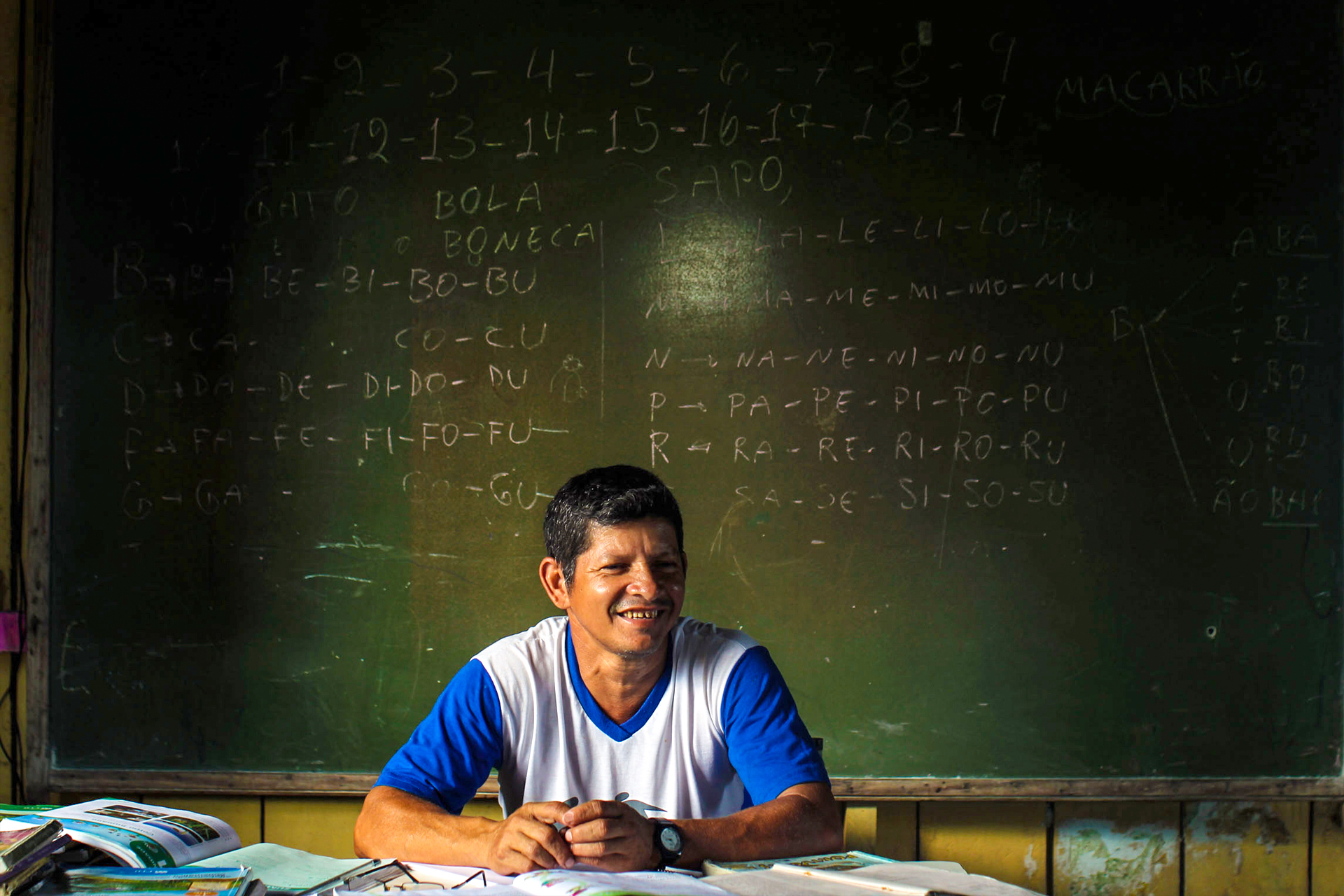André Borges (textos) e Werther Santana (fotos)
Os sintomas que mantinham Uanikuru Matis prostrada em sua cama já não eram estranhos aos olhos de sua mãe. Uma tosse constante maltratava a pequena Uanikuru, de 16 anos, durante toda a noite. Há dias ela não queria comer mais nada e passou a reclamar de dificuldades para respirar. Perdia peso a olho nu. Tumewassa Matis via a tuberculose avançar sobre o corpo frágil da filha, pela quarta vez. A mãe entrou em desespero.
Tumewassa juntou algumas roupas, comida e água. Com a filha doente e um bebê de 2 anos no colo, o menino Benitoia Matis, a índia deixou sua aldeia nas margens do Alto Itaqui em uma pequena canoa. Foram três dias e noites de viagem rio abaixo com seus filhos, até acessar o Rio Javari e chegar a Atalaia do Norte, onde funciona a Casa de Apoio à Saúde do Índio (Casai).
Quando Uanikuru entrou no posto médico, dois meses atrás, seu estado era grave. “Ela chegou aqui realmente muito mal. Ainda está muito fraca, mas aos poucos tem melhorado. Terá de ficar uns quatro meses em tratamento, até poder voltar para sua casa”, afirma Bruno Rodrigues, de 27 anos, enfermeiro responsável pelos atendimentos na Casai de Atalaia.
Os índios matis deixaram de ser isolados no fim dos anos 1970, quando aconteceram os primeiros contatos. Na década seguinte, o povo falante da língua pano quase foi dizimado, mas conseguiu resistir e, lentamente, passou a ressurgir em aldeias espalhadas pelo curso sinuoso dos rios que afloram no Javari.
A tuberculose que acomete Uanikuru e faz a adolescente ter a aparência de uma menina de 10 anos tem sido presença comum no cotidiano dos matis, de acordo com Bruno Rodrigues, além de outras enfermidades como desnutrição, hepatite e doenças respiratórias. O avanço das moléstias não encontra muita resistência frente às estantes vazias da Casai, onde falta um pouco de tudo para os tratamentos.
“Atendemos cerca de 150 casos por mês. São situações que precisam de tratamento, as pessoas têm de permanecer algum tempo por aqui, mas não temos estrutura para isso. Faltam remédios, equipamentos médicos e instrumentos básicos”, conta o enfermeiro.
As famílias dos indígenas que chegam à Casa de Apoio precisam se dividir em cinco malocas. As casas sem ventilação ficam cheias. “O povo indígena está adoecendo mais. Há três anos, eram raros casos de indígenas que tinham de ficar na cidade para tratamento. Hoje isso é constante. Temos necessidade de uma presença maior dos governos estadual e federal, por conta do tamanho do Vale do Javari. A maioria das solicitações que fazemos aqui não é atendida, dizem que não há recursos”, relata Rodrigues.
O contato com não índios, gradativamente, consome a saúde, os hábitos e a cultura dos povos de recente contato. Casos de doenças sexualmente transmissíveis começam a aparecer na Casai. “Não tínhamos isso aqui. Hoje estamos com três casos de HIV em tratamento, além de problemas de sífilis. O alcoolismo é outra dificuldade, um problema generalizado”, diz o enfermeiro.
Nas margens do Javari, em Atalaia, dezenas de crianças indígenas tomam banho na água turva e suja desta parte do rio, por causa do lixo que é lançado a céu aberto pela cidade. Lá estão os filhos de Kunin Matis, que viajou seis dias de barco para fazer compras na cidade que margeia o Rio Javari. “Viemos comprar farinha e gasolina para o barco”, afirma o indígena. Na casa de apoio onde passarão alguns dias, crianças estão com disenteria e febre. “Vamos buscar remédio para levar para a aldeia.”
Nos extremos da Amazônia, a saga por atendimento médico não escolhe origem nem etnia. Nascido e crescido na beira do rio, o pescador Iramar da Silva Lima, de 46 anos, sempre se fiou no conhecimento das plantas medicinais que o pai lhe passou para enfrentar males e dores. Vivendo sozinho na beira do Javari, a mais de duas horas de barco da cidade mais próxima, ele nunca tinha passado grandes dificuldades, até o dia em que começou a sentir uma febre que não cessava. Vieram náuseas, diarreia e tontura. “Eu pensei assim: Meu Deus, vou morrer aqui sozinho”, afirma.
O pescador passou um tempo deitado no chão, para ver se melhorava, mas a situação se agravava. Lima se arrastou até a canoa que estava na beira do rio. “Abandonei tudo em casa, do jeito que estava. Lembro que deitei no barco, puxei um pano em cima de mim e deixei a canoa descer”, conta o pescador. Horas depois, um barco passou próximo da canoa e notou que havia alguém deitado. Lima foi socorrido às pressas e encaminhado para o hospital público de Atalaia do Norte. “Viver sozinho aqui não é fácil. Se eu pudesse, ia fazer outra coisa, mas a gente não acha emprego na cidade. Então, isso aqui é o que me resta”, diz.
As dificuldades de acesso a serviços de saúde também fazem parte do dia a dia dos peruanos que vivem na margem esquerda do Rio Javari. Carlos Nunes, pequeno agricultor que mora há 20 anos na Província de Mariscal Ramón Castilla, diz que não consegue ser atendido do lado brasileiro, em Atalaia do Norte, porque não tem documento do País.
“Nessa região de fronteira os povos vivem juntos, não tem muita separação. Está cheio de peruano que é dono de mercados e lojas do lado brasileiro, mas toda vez que preciso do hospital público de Atalaia, dizem que não posso ser atendido, porque não tenho registro brasileiro”, afirma.
O hospital municipal nega que haja discriminação entre os pacientes que procuram o posto médico e diz que atende a todos. Carlos Nunes afirma que o único jeito tem sido seguir de barco por algumas horas até a ilha peruana de Islândia, nas margens do Javarizinho, um braço Javari, afluente do Rio Solimões. “Lá nos atendem, sem discriminação.”
Os desentendimentos com os serviços de saúde pelo menos não entram no campinho de futebol que Nunes improvisou ao lado de sua casa, na beira do rio. Toda semana, um grupo de indígenas da etnia marubo deixa sua aldeia do lado brasileiro, entra em canoas e rema até a outra margem do Javari, para um futebol no terreno peruano. Raul Marubo, que veste a camisa 10 de Neymar, é o craque do time. “Ele não joga tão bem assim”, rebate Nunes.