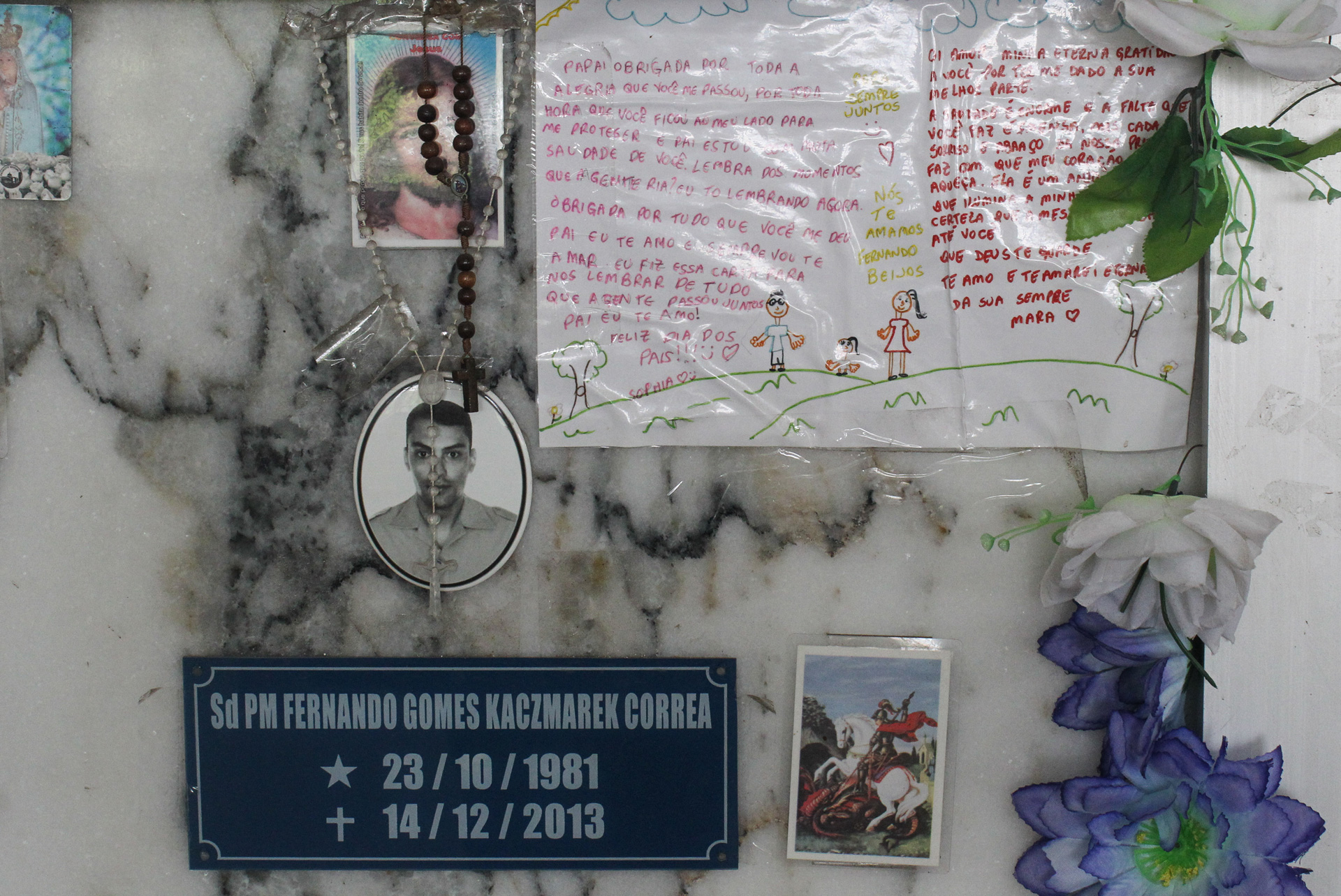Sobreviventes
As histórias dos policiais que escaparam da morte

‘Põe a mão na cabeça, senão vou te arrebentar’
Wagner viu o casal surgir do nada. Passos rápidos em sua direção. Ainda tentou fechar a porta do carro, ligar o motor e sair, mas o homem já estava lá, ao seu lado. “Aí, boy, se você tentar ir embora, a gente vai arrebentar você na bala.” O pressentimento que sentira dez minutos antes se tornara real. Soldado da Polícia Militar, ele estava habituado a desconfiar, a olhar a cara e “ver o crachá” do suspeito. Era, então, a sua vida, o seu dia a dia: patrulhar, acompanhar e prender. Aquele homem franzino, com cerca de 1,75 metro de altura não relaxava nem mesmo à noite, na hora de dormir – colocava duas pistolas embaixo do travesseiro, uma de calibre 40 e outra 380. Acostumou-se a sair de casa com três, um revólver calibre 38 no coldre de perna e as outra duas na cintura. Orgulhava-se de pertencer a um grupo de elite da corporação, o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).
Sua rotina se romperia em 5 de fevereiro de 2007. Era um domingo. Começo da noite. O policial saiu de casa com R$ 1 mil para pagar a um amigo, que lhe emprestara a quantia. Fazia cinco anos que Wagner havia entrado na PM e desde então tivera apenas oito dias de folga. Tinha uma motocicleta e um Gol, fabricado em 1998. Naquele dia, apanhou o carro e somente uma arma: a pistola calibre 380, que ele pôs na cintura. Antes de partir em direção da casa da mãe, na zona sul de São Paulo, telefonou. “Mãe, eu estou saindo de casa agora. Daqui, no máximo, nove, dez minutos, estarei aí. A senhora me espera no seu portão, porque aí é perigoso para mim, que eu já prendi traficante do bairro.” Parou com a arma na mão, olhou pelos retrovisores e chamou a mãe. A porta já estava aberta, mas quando ela pôs o pé para fora, o telefone tocou. Maria José Silvino dos Santos voltou. O filho decidiu dar uma volta. Não queria ficar parado ali, de bobeira. Foi quando resolveu deixar a mãe para trás e passar no caixa eletrônico para sacar mais dinheiro – para não ficar sem nada no bolso após pagar o empréstimo. Viu um Uno parado ao lado do caixa e um casal no interior. Desconfiou deles. Mesmo assim sacou mais R$ 400. Pôs o dinheiro no bolso esquerdo e rumou para a casa do amigo. Mal parou o carro, viu o casal surgir a 10 metros de distância. Quando viu a arma em sua direção, pensou em sacar a pistola, mas desistiu. Saiu do Gol. Era o mesmo casal do caixa eletrônico. “Não olha, não olha, não olha.” Instantes depois parou o Uno. Havia mais quatro bandidos armados. Fizeram uma meia-lua em torno de Wagner.
“Dá o dinheiro, dá o dinheiro”, gritavam. “Não tenho, não tenho”, respondeu o soldado. “Tem que eu tô ligado. Se eu revistar você e achar, eu vou te matar”, disse um dos ladrões. Wagner apanhou a chave do carro e os R$ 400 em um bolso e entregou com sua carteira com os papéis do carro e os documentos pessoais – dentro dela, sua identificação funcional. “Tem mais que eu sei.” “Não tenho”. “Põe a mão na cabeça então”, mandou o bandido. “Não tem”, repetiu o soldado. “Eu tô mandando: põe a mão na cabeça, senão eu vou te arrebentar.” Wagner obedeceu ao criminoso, enquanto três dos bandidos voltavam para o Uno e outros entravam no carro do policial. “Entrelaça os dedos, põe a mão na cabeça e abre as pernas.” Desceu as mãos até a cintura do policial. Apalpou, apalpou, revistou e só parou quando um dos comparsas chamou: “Ô Joe, tira mão do cara, deixa o cara em paz, ele já deu tudo o que ele tem. ‘Vamo’ embora”. Já estavam todos dentro do carro, quando um dos assaltantes começou a vasculhar a carteira do policial. “Fica a pé aí seu vacilão, seu otário”, gritou a única mulher do grupo. Foi quando encontraram a identificação funcional de Wagner. O desfecho foi rápido. “Fodeu, ele é polícia!.” E o primeiro disparo acertou a cabeça da vítima. O soldado caiu, sacou, revidou e com a perna tentou impedir os bandidos de abrir a porta do carro. Choveu bala de todo lado. Um novo impacto, e Wagner deixou a arma cair. Arrastou-se para trás do carro. Ficou ali de joelhos e com as mãos na frente do rosto. Rezou até que as pistolas dos bandidos pararam abertas, sem munição. Sem perceber que fora atingido, o soldado atravessou a rua em busca de socorro. Os bandidos começaram a fugir. Alguns metros adiante, um homem apareceu em um portão.
— Senhor, em nome do senhor Jesus Cristo, chama a polícia para mim, eu sou policial. — Calma, filho, calma filho, a minha esposa já foi chamar a polícia, calma que você tomou quatro, cinco tiros na cabeça.
— Não tomei não, eu que dei tiro nos ladrões.
— Filho, tomou. Olha o retrovisor do carro parado aí do seu lado esquerdo.
“Eu estava segurando no portão dele. Virei a minha cabeça e olhei no retrovisor. Meu cérebro estava saindo para fora. Sentei no chão, atrás desse carro, e fiquei chorando. Meu osso da cabeça estava todo esfacelado.” Levado para o hospital, foi operado duas vezes em uma semana. Os médicos lhe davam poucas chances de sobreviver. “Mãe, se a senhora acredita em Deus, pede para ele levar o seu filho”, teria dito um deles a dona Maria José. O filho sobreviveu e ela o levou para casa. Precisava ser transportado em maca ou em cadeira de rodas quando ia visitar o neurocirurgião. Um dia, acordou, se levantou, falou e viu. De braços com a mãe, foi ao médico. “Quem foi abrir a porta foi ele (o médico). Ele tomou o maior susto.” O médico olhou para o paciente e disse: “É um milagre, é o Wagner!”. “Eu falei: ‘Sou eu, doutor’’. Ainda mais surpreso, o neurocirurgião perguntou à mãe, a dona de casa Maria José. “Mãe, ele fala!?”. “Eu falei: ‘Doutor, eu falo, eu enxergo, eu ando, eu entendo, eu compreendo, eu raciocino, doutor’.” Com três balas alojadas na cabeça, o soldado Wagner passou a ser conhecido desde então por colegas e vizinhos como o Soldado Milagre. “Ele me abraçou.” Os anos de tratamento se sucederam. Seu primeiro casamento acabou, assim como a carreira policial. Wagner passou por cirurgias para reconstruir a calota craniana. Casou novamente, conseguiu a promoção para cabo e estudou Direito. Quer ser juiz, como Sérgio Moro, da Operação Lava Jato.

‘Nós somos treinados para ser super-herói’
“Nós somos treinados para ser super-heróis, mas na verdade nós não somos.” O soldado Gilson Ribeiro, de 36 anos, começa a contar sua história enquanto faz exercícios. O policial está na sala da fisioterapia neurológica, no Centro de Reabilitação da Polícia Militar. Todos os dias, dezenas de policiais passam pelo lugar – a maioria se recupera e volta ao trabalho. Ribeiro não tem mais essa esperança, mas luta para melhorar um pouco por dia. Ele ficou paraplégico depois de ser atacado por bandidos. Era 2014. Trabalhava, então, no policiamento do trânsito da capital. “A gente acaba segurando uma carga a mais do que o nosso trabalho precisa. Isso é do policial militar. E quando a gente cai em uma situação como essa a gente vê que não é nada disso, nós somos de carne e osso. Temos sentimento e família.”
A rotina de trabalho – ele conta – criou “uma casca dentro” dele, fez com que ele acreditasse que podia resolver todos os problemas. “E não é bem por aí.” Ribeiro trabalha hoje como divulgador da Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo (APMDFESP). Ele percorre unidades da PM divulgando o trabalho da entidade que auxilia os policiais militares com fisioterapia, camas, cadeiras de rodas e assessoria jurídica. “Nada melhor do que a gente para conversar com os policiais que entram, que acabam caindo na mesma rotina que eu. Se eles tiverem um desfecho como o meu, que seja diferente. Mostro uma realidade para um policial que entra hoje na corporação que talvez ele não conheça, que esse trabalho é arriscado e perigoso. Não é fácil. Na situação atual, não está fácil para os civis, imagine para os policiais. Somos odiados.”
Ribeiro é casado e tem uma filha. Em 2014, ele foi vítima de um atentado. Eram quatro homens em dois veículos. Ribeiro fora deixar o pai no trabalho, em Pirituba, na zona oeste, quando foi abordado por um dos bandidos. “Ele saiu da moto atirando. Eu me identifiquei como policial e saquei a arma.” O bandido atirou primeiro. A bala acertou a medula de Ribeiro. “Isso me impossibilitou de mexer as mãos.” Ribeiro estava com duas armas. “Não deu tempo, ele veio pelas costas. Por mais que a gente fique atento, eles esperam um minuto de distração nossa para nos acertar.” O soldado foi socorrido pelo helicóptero da PM e levado para o Hospital das Clínicas. Ficou ali internado durante um mês. “Entre a vida e a morte.” Foi depois para casa. Um dia, viu na televisão a prisão de um criminoso na Vila Brasilândia, na zona norte, e o reconheceu – era o homem que o havia baleado. Só ali ele compreendeu o desafio que o esperava. Em casa contava apenas com a mãe, a mulher e a filha de 7 anos para ajudá-lo. “Minha filha nunca me havia visto nem mesmo de cueca. E teve de ver o pai usando fraldas.” A lesão na medula no início provoca a perda de controle do intestino e da bexiga, que só voltam com o tempo.
“Você sai de casa como herói e, de repente, você se encontra em uma cama não podendo nem abraçar sua filha de 7 anos. Para mim, eu só estava esperando a morte, pois quem é que iria me querer desse jeito? Não posso nem abraçar minha filha. Você acha que ela vai querer um pai que vive na cama? Pensei que ia perder minha família.” Três semanas depois, a associação o visitou em casa. Foi então que começou a entender como seria sua vida dali para frente. A família não o abandonou. “Hoje eu sou grato à associação e pelo que ela faz ao policial militar.”

‘Eu sabia que estava morrendo’
A soldado Adriana da Silva Andrade tinha o sonho de fazer carreira na Polícia Militar. Prestou concurso, foi aprovada e incorporada ao batalhão de Sorocaba, em 2013. No ano seguinte, durante a Copa do Mundo, transferiu-se para São Paulo. Foi trabalhar na 2.ª Companhia do 4.º Batalhão da PM, que faz o patrulhamento da região da Vila Leopoldina, na zona oeste. Em 26 de agosto de 2015, ela e um colega foram enviados pelo centro de operações da PM para que fossem ajudar outra equipe que tentava resolver uma briga de casal. Pegaram a Marginal do Pinheiros, perto do Parque Villa-Lobos, em direção ao Ceagesp, por volta das 2h40. O trajeto os colocaria diante de uma quadrilha que acabara de explodir dois caixas eletrônicos no entreposto comercial de hortifrutis.
“A gente foi fazer um apoio. A ocorrência não era nossa. E ela também não tinha nada a ver com a ação dos bandidos”, começa a contar a soldado. Até setembro, ela gastava mais de duas horas para sair de Osasco, na Grande São Paulo, apanhar trem, metrô e ônibus para chegar ao Centro de Reabilitação da PM, na zona norte, onde se tratava na fisioterapia neurológica. “A gente foi surpreendido por tiros de fuzil. Não sabíamos que estavam explodindo os caixas eletrônicos”, prossegue a policial.
Adriana dirigia a viatura. Um carro preto estava na sua frente, à esquerda. Ele deu marcha à ré, fugindo após o primeiro disparo. A soldado parou a viatura e disse ao parceiro que ia fazer o mesmo. Mais tiros. Dezoito ao todo. Um deles atingiu a cabeça da policial. Adriana apagou e perdeu o controle do carro. “Eu senti o impacto. Deu aquele clarão e apagou tudo. Bati a viatura no muro.” Poucos minutos depois, ela acordou. Estava sozinha dentro da viatura. O parceiro conversava com outros policiais. Discutiam o que fazer. “Eu vi aquele sangue pingando. Minha cabeça estava apoiada na janela. Ali eu já imaginei: ‘Fui baleada’. Eu não conseguia falar.” Adriana também não conseguia se mexer. Do seu lado esquerdo, ouvia os colegas falando: “Não vai dar tempo, tem de socorrer por aí, não vai dar tempo de chamar o Samu”. Os colegas a retiraram da viatura acidentada e a colocaram em outro carro. Homens do 23.º Batalhão, que foram apoiar os colegas, levaram-na para o Hospital das Clínicas (HC). “Foi o soldado Alan e o cabo Robson. Eu lembro de tudo. Do impacto do tiro. Eu não senti dor, quando a dor é muito forte, você fica anestesiado. Eu só senti dor quando ergui o pescoço. O cabo Robson ficou atrás comigo e ele falava: ‘Fica acordada’.” Ela tentou afrouxar a camisa, abrir o botão. O tempo parecia eterno. Seu corpo parecia falhar. “Sempre fui uma pessoa bem resistente. Mas eu sabia que estava morrendo. Só não morri porque consegui chegar a tempo no hospital.”
O tiro havia arrancado 3 centímetros da calota craniana de Adriana – hoje ela tem uma placa na cabeça. Perdeu ainda massa encefálica e quando acordou da cirurgia estava sem a visão periférica dos dois olhos, recuperada depois. Nos primeiros dias, não conseguia falar. “Fiz bastante fono aqui no CR e no (hospital) Lucy Montoro.” Também não conseguia mexer o lado direito do seu corpo, o que só voltou com muita fisioterapia. “Não conseguia andar. O primeiro a voltar foi a perna. O braço foi o último, mas perdi a destreza da mão direita. Estou aprendendo a fazer tudo com a esquerda. Por fim, fiquei com dislexia. E eu adorava ler.”
Adriana é solteira e mora com uma colega policial em São Paulo. Ela permanece afastada do trabalho dois anos depois da ocorrência e deve ser reformada. “Mudou tudo na minha vida. Mudou minha disposição física. mexeu não só fisicamente com minha cabeça. Eu ainda não estou conseguindo colocar minha vida em ordem. Quando entrei na PM, eu queria fazer uma carreira longa, o que não foi possível, pois com sequelas eu não conseguirei desempenhar as atividades que eu gostaria na corporação.” Hoje, Adriana ainda precisa de tratamento, mas não consegue mais chegar ao CR. Não tem como comprar um veículo adaptado às suas necessidades nem tem quem a leve. Enfrentar a cansativa rotina de horas no transporte público a deixa exausta. Ela espera ainda receber o seguro pago pelo Estado para poder resolver esse e outros problemas que tomaram conta de sua vida.

‘Você realizou o sonho de todo mundo aqui: está andando’
“Nasci em Guarulhos, em 1967, e entrei na Polícia Militar em 1988”, conta Wagner Leite da Silva. Trabalhou como soldado no patrulhamento da zona norte de São Paulo e em sua cidade natal. Quase no final de sua carreira, em 2013, conseguiu uma vaga para fazer a Escola de Sargentos. O lugar fica ao lado da Marginal do Tietê, na zona leste. Da ponte para a Rodovia Dutra é possível ver todo o pátio, onde a tropa de alunos entra em formação todo dia às 7 horas. Com um pequeno acostamento, o viaduto proporciona não só um mirante para curiosos, mas também um ponto excelente para um ataque do crime organizado. É por isso que todo dia, duas viaturas com alunos da escola vigiam o alto da ponte para proteger os colegas que iniciam o dia de trabalho. No 14 de março daquele ano, ele estava escalado para, de cima da ponte, dar proteção à tropa. Ele e o aluno sargento Edivanil Bispo dos Santos, pararam a viatura e desceram. Wagner carregava uma escopeta. Estavam em cima da ponte às 7h10 quando ouviram um barulho. Era um caminhão bi-articulado subindo o viaduto. Parecia descontrolado. O veículo invadira o acostamento e vinha na direção dos dois policiais.
“Percebi que o motorista olhava para o retrovisor e para a frente. Quando ele percebeu que ia bater, ele fez uma careta.” Wagner jogou a espingarda nas costas e subiu na mureta da ponte. Bispo preferiu correr. “O caminhão bateu no lado da viatura, que levantou do chão. Ela veio raspando a mureta e bateu na minha perna. Caí de costas. Não acreditei que estava caindo. Vi o fundo da alça de acesso e abri os braços: ‘Meu Deus, estou caindo’. Falei três vezes isso e não caía. Via a passarela indo embora e, de repente, já estava no chão.” Wagner caiu de 17 metros de altura, com a espingarda nas costas, em cima de entulhos. O caminhão prosseguiu empurrando a viatura até colher Bispo, que, depois de correr de 15 a 20 metros, também foi atirado do alto da ponte. Tudo assistido pelos alunos da Escola de Sargentos.
“A primeira coisa que eu fiz foi mexer os dedos do pés. E, graças a Deus, percebi que ia voltar a andar.” Ao olhar para a direita, viu que havia uma fratura exposta em seu braço. Com a mão esquerda, percebeu que a cabeça estava íntegra. “Eu pensei: ‘Alguém vai me socorrer’.” Havia mais de 1,1 mil alunos no pátio da escola naquele dia, muitos dos quais bombeiros. Em pouco tempo, Wagner estava rodeado pelos amigos. “Tô na mão de vocês”, disse aos colegas. Os bombeiros afastaram os demais e imobilizaram seus braços e pernas. “Ai eu perguntei do Bispo: ‘Ele está lá em cima ou aqui embaixo?’. Um deles me disse: ‘Wagnão, se preocupa com você’.” Wagner queria saber do colega e perguntou novamente se ele estava “lá em cima” ou se havia “descido”.
— Ele desceu, responderam.
— Então não precisa falar mais nada.
Um helicóptero da PM pousou na Marginal do Tietê e recolheu o aluno sargento. “Eu tô vivo por Deus. É muito difícil sobreviver de uma altura dessas.” Wagner quebrou três costelas, o ombro, o pulso, o fêmur esquerdo, deslocou a bacia e torceu duas vértebras da coluna. Em uma visita dos colegas, estava ainda na cama quando prometeu que voltaria à escola andando. Em dezembro daquele ano, ele retirou os ferros que fixavam sua cintura e braço. Conseguiu ficar em pé em janeiro de 2014. Fazia fisioterapia e hidroginástica. Em janeiro de 2015, pegou o certidão de “apto” do departamento médico da PM e voltou para a escola. O último desafio do aluno sargento era passar no exame físico final. Ele teria de dar quatro voltas na pista de atletismo da escola em 12 minutos. Acabou dando sete.
Wagner voltou ao serviço ativo sem restrição. E promovido a sargento. Hoje, ele trabalha no 27.ª Batalhão, na zona sul. “Foi como entrar na PM de novo.” Wagner deve se aposentar em um ano e meio. O peito cheio de medalhas descreve sua carreira na polícia. “Vou fazer 30 anos de polícia no ano que vem. Quero trabalhar até o último dia, no atendimento ao público.”

‘Segurei uma criança atrás de mim, que eu estava de colete’
Era uma patrulhamento na zona sul de São Paulo. O cabo Kleber Guimarães Soares, de 36 anos, e mais dois outros policiais estavam em três motocicletas pela Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi, quando entraram na Avenida Carlos Caldeira Filho. Foi Guimarães quem avistou os três homens em um carro. O trio olhou para os policiais de tal forma que despertou a suspeita do cabo. “Pela manhã, eles olhando de jeito diferente para equipe policial”, conta o policial, não parecia ser coisa boa. “Informei ao meu encarregado que ia abordar os indivíduos.” Era setembro de 2011. Guimarães e os colegas trabalhavam em Guarulhos, mas haviam sido deslocados para uma operação na zona sul.
Quando se aproximaram para parar e revistar os suspeitos, os criminosos atiraram e entraram em uma rua, perto de uma estação de metrô. Guimarães foi o primeiro a entrar naquela rua. Os bandidos haviam parado o carro. Estavam a 200, 250 metros de distância. O cabo viu um dos suspeitos sentar na janela do carro. Carregava um fuzil. O primeiro tiro ouviu passar perto de sua cabeça como se fosse um zumbido de uma abelha. Depois ouviu um clarão saindo da arma. “Tentei me abrigar, mas era uma praça. Ali fui alvejado na perna com um tiro de fuzil.” Sentiu uma dor como se tivesse torcido a perna na corrida. Seus colegas, que vinham atrás, conseguiram se abrigar – um atrás do poste e outro ao lado da sarjeta. Era uma manhã e a rua estava cheia de crianças que iam entrar em uma escola. Houve correria. Uma criança se aproximou do cabo. “Tio, me ajuda, me ajuda”, pediu. “Consegui segurar a criança atrás de mim, que eu estava de colete. Pelo menos alguma coisa vai dar para fazer.”
Os policiais não revidaram. Não tinham nem mesmo como fazê-lo. Primeiro, pela distância em que estavam os bandidos. Depois por causa das crianças. Os bandidos abandonaram o carro e apanharam outro veículo. Foram perseguidos por uma viatura, que capotou. Os três criminosos escaparam. Quando os disparos cessaram, um dos parceiros do cabo se aproximou. “Vamos, vamos”, disse. O cabo pediu calma e mostrou a perna. Havia muito sangue na bota. Um helicóptero de uma rede de TV mostrou o tiroteio de manhã. A mãe de Guimarães reconheceu o filho na imagem. “Pela mão. A PM não havia tido tempo para avisar minha família.”
Guimarães ficou cerca de nove meses afastado do serviço. A bala havia provocado uma fratura em sua perna. O helicóptero da PM o transportou até o Hospital da corporação, na zona norte, onde o cabo foi operado. “Cheguei no hospital da PM, conversei com o médico e ele disse que a fratura era complicada. Tive fratura nos dois ossos. Quando o projétil me acertou, ele levou couro da bota e pano da calça para dentro da perna.” Foram sete horas de cirurgia e 20 dias de hospital. Ferimentos de fuzil têm uma recuperação difícil. Eles causam um efeito de “cavitação”, a onda de choque que o projétil provoca dentro do corpo durante sua passagem, o que torna o ferimento de grande proporção. Guimarães voltaria a andar em julho de 2012. “Até então não podia ir até a cozinha pegar um copo d’água. Voltei com muita dificuldade, com muitas restrições ao trabalho.” Fazia fisioterapia desde dezembro de 2011 e assim permaneceu até outubro de 2012. Hoje não tem mais nenhum tipo de restrição ao serviço. Guimarães trabalha no Centro de Operações da PM (Copom). “Sou igual a qualquer trabalhador. Eu choro, sinto dor, com uma agravante: eu estou na linha de frente. Qualquer outro trabalhador pode ser roubado e não reagir. Se eu não reagir e o ladrão descobrir que eu sou policial, ele vai me matar.” Um dos bandidos que o atacaram naquele dia acabaria preso e condenado.

‘O impacto me arremessou ao solo e deslizei por 50 metros’
Anderson Lino do Nascimento estava sozinho em seu quarto no Hospital da PM. Recuperava-se da segunda cirurgia desde o acidente que provocara seu afastamento do Canil Central da corporação. Lino, como é conhecido, trabalha na enfermaria veterinária. Saía todo dia às 5 horas de casa, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, para chegar por volta das 6h30 no quartel, no Tremembé, na zona norte paulistana. Foi no trajeto para o trabalho, no dia 3 de março passado, que ele se envolveu no sexto acidente com motocicleta de sua carreira. Foi na Rodovia Anchieta. Uma mulher tentou frear e não conseguiu. Decidiu então usar o freio de mão do carro. Estava a 110 km/h. O veículo rodou na pista, acertando três motos, entre elas a de Lino. “Com o impacto eu fui arremessado ao solo e deslizei 50 metros no asfalto.” Lino conseguiu levantar antes que um outro carro o atropelasse. “Ele teve uma frenagem brusca. Consegui me levantar e senti que não tinha o movimento do braço direito.” O trânsito foi parando. O resgate do Corpo de Bombeiros o levou para o hospital.
Rocam. Antes desse último acidente, Lino já se havia envolvido em dois acidentes durante o serviço, em perseguições a bandidos em Diadema, quando trabalhava no 24.º Batalhão. O primeiro foi em 2008. Ele estava apoiando uma operação de bloqueio quando seus colegas mandaram dois homens parar a moto em que estavam. Os criminosos desobedeceram. Lino e seus colegas perseguiram a motocicleta até que ela entrou em uma viela de terra e subiu em uma ponte sobre o piscinão de Diadema. “O garupa sacou uma arma e disparou em minha direção.” Lino freou bruscamente e perdeu o controle da moto, batendo na lateral da ponte. Caiu e ficou dependurado, com a moto sobre sua perna. Os criminosos conseguiram escapar. O segundo acidente aconteceu durante nova perseguição a bandidos em uma motocicleta. “Avistamos dois indivíduos em uma moto e tentamos abordá-los.” Mais uma vez, Lino perdeu o controle de moto e foi ao chão. Ficou cerca de seis meses afastado. Os bandidos fugiram.
Lino deixou o patrulhamento com moto e foi trabalhar no canil. Primeiro, com os cães pelas ruas. Depois, na enfermaria. Continuava, no entanto, com sua moto particular. No último acidente, além da ruptura dos tendões do bíceps e do tríceps, teve ainda de reconstruir os tendões do ombro. Fez fisioterapia na ortopedia do Centro de Reabilitação desde de maio. “Tive muita ajuda dos amigos do canil.” No dia 3 de outubro, ele voltou ao trabalho. Ainda com restrições, como trabalhar fardado e armado. Chegou ao quartel dirigindo um carro. “Vendi a minha moto. Não uso mais.”